EROS E PSIQUÊ EM “LÃO-DALALÃO (DÃO-LALALÃO)”
J.Henrique
Na estrutura arquitetônica de “Corpo de baile, articulada pelo
princípio musical da poeticidade da forma narrativa, “A estória de
Lélio e Lina” e “Lão Dalalão (Dão-Lalalão)” intimamente se associ-
am como variações mitopoéticas acerca da divina potência de Eros.
Na simetria especular das duas estórias, que se situam no fim e no
início de cada uma das metades de que se compõe o livro dividido
pela parábase central de “O recado do morro”, o amor simbolizado
no eterno feminino redime o destino masculino. Lina e Doralda se
irmanam como protagonistas do drama de iniciação nos mistérios do
amor. Ambas desempenham a função hierática de iniciar os parceiros
masculinos no magistério erótico. Lina realiza a catarse dos desenga-
nos amorosos de Lélio, e Doralda submete Soropita ao regime de
fascinação da existência erotizada no vínculo nupcial do corpo e da
alma.
Na primeira edição de “Corpo de baile”, a estória de amor de
Soropita e Doralda se apresenta com três títulos diversos, que se re-
velam complementares. No índice inicial do primeiro volume, a estó-
ria se intitula “Lão-Dadalão (Dão-Lalalão)”. A repetição poética da
forma sonora, que ressoa como anafonia simbólica, reforça o poder
hiperbólico da arte de amar. No índice final do segundo volume, o
título se reduz a “Dão-Lalalão”, em que se condensa o som alusivo à
trama fono-semântica do redobrado toque de sinos, que celebra a
força redentora da experiência amorosa. No corpo do segundo volu-
me, encimando a estória, o título “Dão-Lalalão” tem por subtítulo “O
Devente”, que se refere à situação conflitiva de Soropita, cuja vida se
representa dramaticamente empuxada pelos impulsos contrapolares
do prazer suscitado por Doralda e do dever imposto pelo axioma éti-
co da conduta pautada pelo código de honra do homem educado na
escola da valentia. Em “A estória de Lélio e Lina”, a vivência erótica
se compreende como “lãodalalão – um sino e seu badaladal” (Rosa,
2001d, p. 301). Na correspondência com o tradutor italiano, Guima-
rães Rosa enfatiza a musicalidade do título da estória de amor de So-
ropita e Doralda ao esclarecer que o lão funciona como expressão
mimofônica, que traduz “o tom(de viola ou outro instrumento), o lá
do diapasão, o toque suave(som)” (Idem, 1981, p. 40).
No relacionamento harmônico com a parábase central de
“Corpo de baile”, “Dão-Lalalão” funciona como contraponto erótico
à potência musal do morro. De acordo com a notação crítica de Ben-
to Prado Júnor, o Logos privado da Psiquê , que se dramatiza na si-
tuação conflitiva da existência de Soropita, corresponde ao Logos
universal e anônimo do Mito, que se representa em “O recado do
morro” (Prado Júnior, 1968, p. 18). A narrativa se inicia com a ence-
nação do drama psíquico do personagem conturbado pelo impacto
dúbio das emoções contrapostas do prazer proporcionado por sua
vida conjugal com Doralda e do desprazer provocado pela lembrança
do tempo em que a conheceu como mulher pertencida de todos, no
desempenho profissional de prostituta em Montes Claros. A fim de
2
se distanciar e até mesmo esquecer do passado vivido por sua mu-
lher, Soropita se muda para o povoado do Ão, de onde apenas sai
para fazer compras no arraial de Andrequicé. A possibilidade de se
deparar com alguém que tenha conhecido a antiga vida airosa de Do-
ralda atormenta a consciência do vaqueiro cioso de sua honra de ho-
mem valente, que não suporta ofensa nem leva desaforo para casa.
Na viagem de retorno do Andrequicé para a sua casa no Ão,
Soropita se entrega ao devaneio “em meio-sonhada ruminação”,
que o transporta na excursão anímica em que se revezam na sua ima-
ginação o imponente nome Doralda, que lhe traz paz e calma, e os
apelativos Dola, Dadã e Sucena, que lhe tumultuam a mente, porque
sinalizam o antigo desempenho profissional de sua mulher. Na avali-
ação precisa de Bento Prado Júnior, “o personagem é visado e descri-
to como uma consciência que se demora na recapitulação de sua e-
xistência: viagem interna no tempo, que se desenvolve paralelamente
à viagem exterior, que percorre o espaço da estrada real, palmilhada
pelo cavalo” (Id., ibid., p. 10). No sobressonho em que “o torneio das
imagens se espessava”, a viagem se desdobra no trajeto físico e no
percurso psíquico. Na dupla travessia espacial e temporal, o persona-
gem se deixa transportar pelo cavalo e pelas asas da imaginação. O
novelo das imagens, em que as dimensões do tempo e do espaço se
interpenetram, traduz a experiência imediatamente vivida pelo per-
sonagem que viaja pela estrada sertaneja e, simultaneamente, realiza
uma incursão temporal. Na vivência dramática de Soropita, o tempo
se bifurca na evocação do presente que o satisfaz e do passado que o
3
atemoriza. Ao imaginar a mulher, que o aguarda em casa com os
desvelos da esposa amorosa, sente “um gozo de mente, sem fim se-
parado do começo, aos goles bebido, matutado guardado, por si
mesmo remancheado” (p. 43). Ao evocar Sucena, que conhecera na
casa das mulheres que vivem na gandaia, “ele tinha de apartar os o-
lhos, num arrefrio” (p. 50).
A fim de encenar o drama psíquico de Soropita, o narrador se
apropria do procedimento poético de Dante, que consiste em unir a
exterioridade da paisagem à interioridade da alma. O que está fora no
mundo circundante significa o que ocorre dentro do homem. A inter-
secção do elemento exterior e do interior anímico perpassa os três
reinos do poema dantesco. No canto I do Inferno , por notável exem-
plo, a obscuridade da floresta reflete a errância existencial do poeta.
As trevas materiais simbolizam o tenebroso desvio da alma. Na pas-
sagem do Inferno para o Purgatório , a paisagem dantesca se torna
menos conturbada, porque traduz um estado de alma mais reconcili-
ado consigo mesmo. No Paraíso , as imagens do riso, da música e da
alegria configuram a redenção do poeta finalmente reintegrado na
plenitude divina. Em “Dão-Lalalão”, a dubiedade dramática do per-
sonagem tensionado pelas emoções opostas de prazer e desconforto
transparece na ambivalência da percepção da paisagem. A exuberân-
cia da natureza sertaneja, que fala a todos os sentidos de Soropita,
especialmente aos olfativos e auditivos, e a beleza arrebatadora de
Doralda mutuamente se implicam. A lama do brejo indicia o passado
4
suspeito de Sucena, também conhecida como Garanhã, devido a seu
excelente desempenho sexual.
Na cena em que recepciona em sua casa o amigo Dalberto, So-
ropita experimenta a obsessão do ciúme ao imaginar que talvez o
convidado tenha conhecido a vida pregressa de Doralda. Quando o
hóspede lhe pergunta se está com sono, se está passando bem, Soro-
pita não responde imediatamente ao interlocutor, pois apenas reage
com o resmoneio mental do monólogo narrado, que converte a narra-
tiva do drama psíquico na psiconarrativa em que possível se torna
ouvir o desencadear intempestivo do monólogo dialogado, que con-
futa em réplicas veladas a suposta insinuação do discurso inocente de
Dalberto, que somente expressa a preocupação com o bem estar do
casal que o acolhe com a hospitalidade fraterna. Na expressiva forma
do monodiálogo, quem se acusa e se defende da pecha de marido
enganado é o personagem Soropita, desdobrado no embate das vozes
conflitantes, que lhe tumultuam a mente enciumada:
“Não, enganado não. Nem não queria prosápia, essas delicadezas
de amigo, e nem Doralda tinha ordem de querer saber a respeito
se ele vinha passando bem ou abalado, nem perguntar... Doralda
era dele, porque ele podia e queria, a cães, tinha desejado. Idiota,
não. Mas, então, que ficasse sabendo, o Dalberto. Ali, de praça,
sabendo e aprendendo que o passado de um ou de uma não inde-
nizava nada, que tudo só está por sempre valendo é no desfecho
de um falar e gritar o que quer! Retumbo no resto, e racho o que
racho, homem é quem manda! E macho homem é quem está por
cima de qualquer vantagem!... Então?! A dado, só mesmo o que
concertava tudo bem era uma escolhambação, as esbórnias!”
(Rosa, 2001e, p. 88-9)
5
Na correspondência com Edoardo Bizzarri, Guimarães Rosa
assinala o estatuto calculado da narrativa em que se representa o psi-
codrama do personagem ao afirmar que o narrador assume o diálogo
intertextual com a trama imagética do Inferno de Dante com o pro-
pósito de revelar a profundidade abissal do inferno anímico de Soro-
pita (Rosa, op. cit., p. 52). Na cena em que reencontra o preto Iládio,
o personagem alucinado pelo ciúme vislumbra no corpo do negro a
figuração do demônio, que “ria uma risadona, por deboche”, o “olhar
atrevidado”. A saudação amistosa de Iládio, que se traduz no meneio
das mãos, Soropita a interpreta como gesto ofensivo. Transtornado
pela convulsão ciumenta, chega a conceber a idéia de que “o negra-
lhaz, avultado, em cima de uma besta escura” ostenta o ar debochado
por ter sido amante de sua mulher na casa de meretrício em Montes
Claros. A fantasia, que se lhe afigura real, o induz a perseguir e ma-
tar Iládio, que consegue salvar-se, porque se humilha, ajoelhando-se
e exclamando o grito de perdão. Na encenação do inferno anímico de
Soropita, que se extravasa no ciúme furioso, o narrador se apropria
da simbologia infundibiliforme do canto XXXIV do Inferno , que se
representa condensada na imagem final em forma de funil da descida
infernal ao abismo de Lúcifer:
“Mas, o sofrimento no espírito, descido um funil estava nas
profundas do demo, o menos, o diabo rangendo dentes enrolava e
repassava, duas voltas, o rabo na cintura? A essa escuridão: o sol
calasse a boca...” (Id., ibid., p. 111)
6
Na articulação verbal do sentido cifrado nos nomes Soropita e
Doralda, Ana Maria Machado surpreende a reversa harmonia de uma
oposição complementar. Ao nome em a de Doralda, que “se abre
para o amor” se relaciona, por contraste, o nome fechado em u ou o
de Soropita, Surropita ou Surupita, que “ameaça com a violência e a
morte”. A força vital de Doralda, “dourada e alva, dada, dolorosa e
ardorosamente adorada em seus duráveis aromas e odores”, sempre a
irradiar o sentimento festivo da vida, “exerce sobre Soropita uma
atração magnética”, porque ambos “constituem pólos opostos”:
“Ele é o só Soropita que, à força de se fechar em si mesmo, se en-
trega a soturnos pensamentos que tomam conta dele. Até que, su-
bitamente, os sopita e, num supetão, passa a agir. Uma ação sem-
pre violenta, inesperada, de armar sururu ou dar surras(...) Suru-
pita é súbito e age de supetão. (Machado, 1976, p. 180-1)
Educado e curtido no rigor dos combates e duelos de morte,
Soropita se torna homem destemido, capaz de lavar a honra com o
sangue do adversário. Dotado de ânimo batalhador, não renega a cul-
tura da violência, do ressentimento e do clamor em que foi criado.
No entanto, desde que conheceu em Montes Claros a prostituta que
viria a ser sua esposa, sente-se arrebatado pela força do amor. O for-
moso nome Doralda se lhe afigura “bom apelativo” e o outro apelido
de Sucena “era poesias desmanchadas no passado, um passado que,
se a gente auxiliar, até Deus mesmo esquece” (p. 31). Sente-se reali-
zado na vida conjugal, porque Doralda lhe enche “a casa de alegria
sem tormentos” com “sua risada em tinte, seu empino bonito de ca-
7
minhar, o envago redondado de seus braços” (p. 38). Diferente de
tantas mulheres, que vivem “contando de doenças e remedando fastí-
os”, a sua mulher o encanta, porque “perto dela, tudo resultava num
final de estar bem arrumado” (p. 38). A fala destravada e franca, a
firmeza do olhar, o aroma floral de açucena, a sensualidade do corpo
exuberante, o sorriso gaiato, que dissolve o dever normativo e o con-
verte na inocência do prazer, a alegria contagiante, tudo em Doralda
fascina Soropita e o induz a reconhecer a necessidade de aprender a
viver em disponibilidade vital.
Decidido a libertar-se do acerbo travo do amor amaro, que o
deixa sozinho a sofrer no espaço monádico da suspicácia subjetiva,
Soropita rompe a proibição do silêncio que se impôs a si mesmo e
pede a Doralda que lhe conte a história de sua vida de prostituta em
Montes Claros. No intercâmbio das perguntas do marido e da respos-
ta da esposa, evidencia-se a oposição entre o homem que se julga
devente e da mulher que se considera inocente (p. 102-4). Ao dever
preconizado pela conduta moral, Doralda contrapõe o prazer de viver
a vida encarnada no corpo. Inicialmente declara que a antiga profis-
são de meretriz não a envergonha, porque o sexo nada tem de peca-
minoso. Em seguida, confessa que, se não gostasse do gozo físico,
não teria vivido em casa de prostituição. Acrescenta ainda que não
conhecia Dalberto nem se deitou com nenhum homem chamado Ilá-
dio. Quanto aos outros, não se lembra, porque nunca se entregou de
corpo e alma. Finalmente, assegura que Soropita foi o primeiro ho-
mem que se tornou, de corpo e alma, referência sensual para o seu
8
desejo sexual e que, por isso mesmo, não sente falta dos tempos idos
e vividos.
Na cena de sedução, em que oferece o corpo erotizado para o
regalo do marido, Doralda inicia Soropita no regime de fascinação
do amor (p. 98-102). No quarto, “em pé, perto da porta, assaz toda
vestida, com o colar, o cinto preto, os sapatos de salto alto”, ela se
prontifica, “galante e disposta”, a ser apreciada pelo esposo, que se
delicia com a admirável visão e sente “os desejos de falar as alegres
artes”. Na aura entusiástica que os envolve, eles se beijam e se abra-
çam “num derretimento dum dengo”, que transmuta a inflexão iner-
cial do comportamento retilíneo de Soropita na fluidez sintonizada
com o livre movimento de gestos e afagos. Na visão ampliada pela
desenvoltura do corpo liberado do sentimento de culpa, o marido
contempla maravilhado a esposa, que lhe parece “a mais bela - mi-
mosa sem candura”, graciosa no fulgor corporal, e não na pureza i-
material do espírito. Em atendimento ao marido, que a queria ver
toda nua, Doralda se desdobra nos requintes da sensualidade, desves-
tindo-se paulatina e progressivamente. No aroma em flor do corpo de
sua mulher, Soropita experimenta “o estado dum perfume”, que o faz
aspirar o ardor “que forma uma alegria”.
A fim de representar a hierofanização do sensível, que se con-
cretiza no fulgor imaculado do corpo desnudo de Doralda, o narrador
interage com o embevecimento contemplativo do marido, adotando
o dispositivo ficcional da dupla mediação narrativa, que lhe permite
exprimir a experiência passional do entusiasmo vital através do
rigoroso entrecho das imagens em estado de delírio. Na sintonia fina
9
roso entrecho das imagens em estado de delírio. Na sintonia fina com
Soropita, que se revela submetido ao fascínio do magistério erótico
de Doralda, o narrador se apropria do repertório imagético do Cânti-
co dos Cânticos , conforme reconhece o próprio escritor em sua cor-
respondência com Edoardo Bizzarri (Id., ibid., p. 50). Filtrada no
êxtase da visão do personagem, a narrativa dos meneios e requebros
de Doralda, que se exibe no ritmo de balancê de ir e vir pelo quarto,
culmina na dicção expressiva de que ela “ia e vinha, inteira, macia,
sussa, pés de lãs, seus pezinhos carnudos, claros que rosados”:
“O vôo e o arrulho dos olhos. Os cabelos, cabriol. A como as
boiadas fogem no chapadão, nas chapadas... A boca – traço que
tem a cor como as flores. Os dentes, brancura dos carneirinhos.
Donde a romã das faces. O pescoço, no colar, para se querer com
sinos e altos, de se variar de ver. Os doces, da voz, quando ela fa-
lava, o cuspe. Doralda – deixava seu perfume se fazer.” (Id., i-
bid., p. 102)
A iniciação erótica celebra as bodas dos corpos e as núpcias
das almas de Doralda e Soropita. O eterno feminino se epifaniza na
exuberância sensual da forma corporal. A erotização do corpo, que
atua como suporte sensível da comunhão anímica, neutraliza a sepa-
ração metafísica do sensível e do inteligível, da matéria e do espírito,
da alma e do corpo. O vínculo nupcial do corpo e da alma promove a
religação do homem e da mulher com a força formativa da natureza.
Na hierogamia prodigalizada pela divina potência de Eros, o êxtase
da conjunção carnal do feminino e masculino abre as portas da per-
cepção para o mundo circundante, e não apenas para o relacionamen-
10
to intersubjetivo. A unidade polarizada de dois em um ou de um em
dois, que singulariza a sexualidade erotizada, não se limita ao univer-
so humano, mas se estende por todo o reino da natureza. Na união
genuinamente erótica, os amantes se realizam no mundo em que vi-
vemos, e não no páramo empíreo das almas desencarnadas. Compre-
ende-se, portanto, o motivo porque o nexo imagético, que traduz o
encontro epifânico de Doralda e Soropita, nada tem a ver com metá-
foras espirituais. Os sons, os perfumes e as cores se correspondem
como imagens somáticas e telúricas. O erotismo de Doralda, que a
faz vibrar em uníssono com a vida em si mesma da natureza em ge-
ral, manifesta-se na simbologia que a identifica com o arrulho e o
impulso ascensional da pomba, com o saltitar da cabrita, os odores
florais, a pureza materializada nos animais e no som esponsalício dos
sinos da alegria.
No conjunto sinfônico das sagas rosianas do sertão, o hino de
amor à vida encarnada no corpo constitui o motivo dominante das
narrativas enfeixadas no corpejante gesto de baile da vida que se re-
presenta em ritmo de transe. O desempenho de Doralda como sacer-
dotisa de Eros permite avaliar a originalidade que o tema do amor
adquire na obra de Guimarães Rosa. No contexto cultural da civiliza-
ção ocidental, a separação metafísica do universo inteligível e do
mundo sensível inviabiliza a compreensão do amor como potência
somática e telúrica. O mito de Eros e Psiquê, nas duas versões co-
nhecidas, uma filosófica, compendiada no “Fedro”, de Platão, e outra
literária, compaginada em parte dos livros IV e VI e todo o livro V
11
das “Metamorfoses”, de Apuleio, constitui testemunho inequívoco de
que a plenitude da alma pressupõe a morte do corpo. O envólucro
corporal se concebe apenas como veículo para se atingir a beatitude
eterna. Atingido, porém, o limiar do espírito, a alma deve evadir-se
do corpo a fim de se consumar a sua união com o esposo celestial.
O filosofema platônico do andróptero remonta ao antigo mito
do amor e da morte, testemunhado na representação plástica do alado
grupo dos amantes e tradicionalmente argumentado em várias estó-
rias que refletem a crença de que somente com o auto-sacrifício se
paga o preço da consumação da vida: quem vê deus, morre diz a sa-
bedoria popular de remotos séculos. O misticismo consubstanciado
neste ditado religioso exprime a consciência da cisão entre o ser inte-
ligível e o devir sensível, de que resulta a proliferação indefinida das
dualidades antagônicas: céu e terra, espírito e matéria, alma e corpo,
ad nauseam. Do mito de Eros e Psiquê, narrado por Apuleio, depre-
ende-se que ao fim e ao cabo da iniciação gnosiológica, o neófito
admira a grande equação escatológica: Vita Aeterna = Lux Perpetua.
No “Fedro”, Platão conta o mito da alma que, ao perder as asas, roda
pelos ares até aderir à solidez da terra, precipitando-se na materiali-
dade. Ao impulso aerostático do delírio transcendente se contrapõe o
golpe da imanentização geotrópica de tudo que cai e se reveste do
corpo terrestre. A gravidade da terra corresponde à inflexibilidade
inercial do espírito decaído. De acordo com esta cosmopsicologia,
viver é aprender a morrer para se absolver do cativeiro das almas que
erram degradadas pela sombria terra, excruciadas pela nostalgia de
12
um lugar supraceleste. Considerado na perspectiva do dualismo reli-
gioso, que se perpetua nas traduções da filosofia de Platão e da narra-
tiva de Apuleio, o mito de Eros e Psiquê não se compatibiliza com a
concepção rosiana do amor.
A fim de demonstrar a originalidade do magistério erótico de
Doralda, necessário se torna remontar à origem da mitologia e da
filosofia. Um dos mitos mais antigos diz que a unidade primordial
constitui a origem primeira e o fim último de tudo que existe. A anti-
güidade do mito se atesta nos versos de Eurípedes (frg. 484, Nauck),
que citamos na tradução de Eudoro de Sousa: “O mito não é meu,
vem de minha mãe: / Céu e Terra eram uma forma só./ De vez que
separados foram em dois, / geraram todas as coisas e as deram à luz”
(Sousa, 1975, p. 18). O mito da unidade indiferenciada, que preside à
genese do mundo diferenciado em duas potências simétricas e opos-
tas, constitui o substrato dinâmico da imaginação mítica. O princípio
fundamental da mitologia do horizonte se manifesta na separação das
entidades contrárias, comprometidas no drama genesíaco. Aquém do
horizonte, o céu e a terra separam-se. Além do horizonte, o céu e a
terra circunferem-se. Separação pressupõe união e, no limite, indis-
tinção ou indiferença. Inúmeros são os mitos que relatam viagens ao
horizonte extremo, ao reino anterior à dolorosa separação. A nostal-
gia do paraíso perdido se origina do fascínio exercido pelo mitolo-
gema do horizonte extremo. O motivo condutor das catábases literá-
rias, que são narrativas de viagens aos confins da terra, é a demanda
do lugar paradisíaco de uma só forma ou de um corpo só.
13
O mito da unidade primordial institui também a especulação
filosófica. Metafisicamente determinada, a filosofia se caracteriza
pela pergunta que se interroga pelo princípio (arkhé) de tudo que é
ou existe. Platão foi o primeiro a utilizar filosoficamene o termo ar-
khé , e a história da filosofia tem por certidão de nascimento um tex-
to de Aristóteles, em que o legado do pensamento originário se tra-
duz no esquema conceptual do platonismo. De acordo com a metafí-
sica de Aristóteles, aquilo de que constam todos os entes (hápanta tà
ónta) (Met., A, 3, 983b6ss.) se denomina o princípio dos entes. Con-
forme se lê no prefixo coletivo há-, que significa “em um só”, a filo-
sofia se define como a visão de todos os entes em um só. Imediata-
mente se conclui que hápanta tà ónta é outra maneira de dizer arkhé
ou principium , que para Tales teria sido a água, e para Anaxímenes
o ar, o Apeiron para Anaximandro, substantivo neutro, composto do
alpha privativum e de um vocábulo derivado de peíras (= limite),
pelo que se obtém: todos os entes em um só é um ente só, sem limi-
tes. Todos os entes têm limites. O que os entes não têm é o ente só, o
envolvente ou o circundante de todos os entes limitados. Em con-
formidade com esta interpretação platônico-aristotélica, os primeiros
pensadores se assemelhavam aos primeiros autores de teogonias
(protous theologesantas ), que fizeram do Oceano e de Tétis (Home-
ro) ou do Céu e da Terra (Hesíodo) os pais da geração (genéseos pa-
téras ) (Met., A, 3, 983b29-31). Filosofia e mitologia se correspon-
dem, porque refletem sobre donde vêm e para onde vão as coisas que
se constroem e se destroem.
14
O mitologema do horizonte extremo, que pressupõe a unidade
indiferenciada do Céu e da Terra em uma forma só, e o filosofema de
todos os entes em um ente só constituem o fundamento da tradição
dilemática da civilização ocidental, que se caracteriza pela consciên-
cia traumática de uma cisão primordial. A separação da origem e do
originado institui o suporte responsável pela oposição do inteligível e
do sensível, do espírito e da matéria, da alma e do corpo, e de todos
os pares de dualidades antagônicas, que se impuseram à tradição de-
safortunada do pensamento dicotômico ocidental. O culto da separa-
ção, que se perpetua nos discursos da mitologia e da filosofia, impli-
ca uma cultura esquizofrênica, que promove a incessante disputa dos
contrários, ao mesmo tempo em que destila o ódio surdo contra a
finitude radical da existência que se desenvolve no horizonte móvel
do tempo. No entanto, não é com ilhas do fim do mundo nem com
maravilhas de áleas de palmeiras inexistentes que se cura a errância
nostálgica das almas que se reconhecem exiladas dos jardins paradi-
síacos do nonato. A existência radicalmente finita é um peso insupor-
tável apenas para os ressentidos. Na coragem de assumir o seu desti-
no efetivamente mortal é que se assegura ao ser humano o habitar
poeticamente o lugar pátrio e materno de sua residência na terra.
O Eros celebrado por Doralda se contrapõe ao Eros divulgado
por Platão no diálogo intitulado Banquete . No esquema conceptual
do platonismo, o belo corpo sensível funciona apenas como acicate
inicial do desejo de conhecer a forma imaterial da beleza ideal, que
reside no universo inteligível da idéia do Bem e, portanto, transcen-
15
de o mundo sensível, em que se exerce a experiência propriamente
humana. O discurso erótico de Diotima ensina a gradação ascendente
do amor, que se inicia com o brilho efêmero da alma encarnada e se
consuma na contemplação do fulgor eterno das matrizes absolutas
da idealidade pura. O elogio de Eros, que Platão atribui ao comedió-
grafo Aristófanes, consagra a androginia como princípio instituidor
do gênero humano. O ser andrógino tão-somente transpõe para o
homem e a mulher a antiga concepção da unidade primordial, exaus-
tivamente argumentada pelo discurso da mitologia e da filosofia. A
uma cosmogonia vinculada à idéia da separação primordial, que deve
ser reintegrada, corresponde uma antropogonia comprometida com a
noção da falta decorrente da cisão de uma só forma humana em duas
sexualmente opostas.
O vínculo nupcial de Doralda e Soropita não se realiza no es-
paço neutro do espírito indiferenciado nem no domínio abstrato da
alma divorciada do corpo, mas na contextura concreta do calor do
sangue e da força do espírito encarnado. Em “Dão-Lalalão”, o misté-
rio maior do amor se consuma na transmutação do espírito contra-
posto ao corpo, de que resulta o dilema insolúvel do corpo sem espí-
rito ou espírito sem corpo, no espírito consorciado com o corpo. Na
formulação precisa de Soloviev, que bem se aplica ao magistério eró-
tico de Doralda, a negação da carne constitui uma falsa espiritualida-
de, porque o espiritualismo verdadeiro se atesta na ressurreição e na
transfiguração da carne (Soloviev, 1971, p. 105). Mas o autor que
mais se aproxima do erotismo propugnado pela concepção erótica de
16
Guimarães Rosa é Ludwig Klages, o autor do magnífico livro sobre o
Eros cosmogônico (Klages, 1972). De acordo com Klages, o êxtase
erótico liberta a alma do jugo do espírito que hostiliza a vida encar-
nada no corpo. No magistério sagrado do Eros cosmogônico, o cos-
mos vive sob o signo da potência erótica, e a vida se polariza na con-
junção harmoniosa da alma (Psiquê) e do corpo (Soma). Não subsiste
o corpo, senão porque existe a alma. A alma determina o sentido do
corpo, e a imagem do corpo constitui a epifania da alma. Na entrega
de corpo e alma a Soropita, Doralda celebra o mistério maior do a-
mor.
17
Referências Bibliográficas
ABEL, Carlos Alberto dos Santos. Rosa autor, Riobaldo narrador .
Rio, Relume Dumará, 2003.
ALVES, Maria Theresa Abelha. Amar o amor, amaro amor: sob o
jugo de Doralda. In: Lélia Parreira Duarte (Org.). Outras margens:
estudos da obra de Guimarães Rosa. Belo Horizonte: Autêntica-
PUC, 2001. 213-230.
ARENDT, Hannah. Sobre a revolução. Tradução de I. Morais. Lis-
boa: Moraes Editores, 1971.
BATARD, Yvonne. Dante, Minerve et Apollon. Les Images de la
Divine Comédie . Paris: Les Belles Lettres, 1952.
BIZZARRI, Edoardo. Guimarães Rosa e Vico. Notas sobre uma poé-
tica rosiana. Suplemento Literário do Estado de São Paulo. S. Paulo,
19 de novembro de 1972.
BOLLE, Willi. Fórmula e fábula. Teste de uma gramática narrativa,
aplicada aos contos de Guimarães Rosa. S. Paulo: Perspectiva,
1973.
BOYANCÉ, M. P. Le culte des muses chez les philosophes grecs.
Paris, 1936.
BURKERT, Walter. Greek Religion. Archaic und Classical. Trans-
lated by John Raffan. Oxford, Basil Blackwell, 1985.
CALAME, Claude. The Poetics of Eros in ancient Greece. Trans-
lated by Janet Lloyd. Princeton-New Jersey, Princeton University
Press, 1999.
CANDIDO, Antonio. Jagunços mineiros de Cláudio a Guimarães
Rosa. In: Vários escritos. S. Paulo: Duas Cidades, 1970. p. 135-60.
CAPOVILLA, Maurice. “O Recado do Morro”, de João Guimarães
Rosa. O lúdico, princípio estrutural de uma novela. Revista do Livro,
1964. 25, p. 131-42.
18
CASTRO, Manuel Antônio de. “A epifania da linguagem ou o Corpo
fechado”. In: Travessia poética. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro-
MEC, 1977. p. 13-24.
CHANTRAINE, P. La formation des nomes en grec ancien. Paris,
1993.
CHKLOVSKI, V. A arte como procedimento. In: Teoria da Litera-
tura. Formalistas russos. Tradução de Ana Mariza Ribeiro e outros.
Pôrto Alegre, Globo, 1971. p. 39-56.
COHN, Dorrit. Narrated monologue: definition of a fictional style.
Comparative Literature, 1966. 18, p. 97-112.
COHN, Dorrit. Transparent minds. Narrative modes for presenting
consciousness in fiction. Princeton-New Jersey: Princeton University
Press, 1978.
CORNFORD, F. M.. The origin of attic comedy. London, 1914.
CUMONT, Franz. Lux Perpetua. Paris: Paul Geuthner, 1949.
DANTAS, Paulo. Sagarana emotiva (Cartas de J. Guimarães Rosa).
S. Paulo: Duas Cidades, 1975.
DECHARME, P. Les Muses. Paris, 1869.
ECO, Umberto(2001). A busca da língua perfeita na cultura euro-
péia. Tradução de Antonio Angonese. Bauru: Ediitora da Universi-
dade do Sagrado Coração, 1869.
ELIADE, Mircea. Mito y realidad . Trad. de Luis Gil. Madrid: Edi-
ciones Guadarrama, 1968.
ELIADE, Mircea. Lo sagrado y lo profano. Traducion de Luis Gil.
Madrid: Ediciones Guadarrama, 1957.
DHORME, E. Les religions de Babylonie et d ́ Assyrie . Paris, 1949.
DUCHEMIN, Jacqueline. Pindare poète e prophète. Paris: Les Be-
lles Lettres, 1955.
FERREIRA, Lívia. Homência e hominização em Matraga. Revista de
letras, 1970-71. 13, p. 127-46.
19
FICHTE, J. G. Sämmtliche Werke . Hrsg. J. H. Fichte. Bonn: Marcus,
1845-6.
FROBENIUS, Leo. Histoire de la civilization africaine. Trad. H.
Back et D. Ermont. Paris: Gallimard, 1952.
FROBENIUS, Leo. La cultura como ser viviente. Tradução de Má-
ximo José Kahn. 4. ed. Madrid, Espasa-Calpe, 1934.
HOFFMANN, E. T. A. Acerca de um dito de Sacchini e do chamado
efeito em música. Tradução de Margarida Carvalho. In: Música e
literatura no romantismo alemão. Organização, introdução e notas
de Rita Iriarte. Lisboa: Edições Cosmos, 1987. p. 103-10.
GELZER, Th. Der epirrhematische Agon bei Aristofanes. München,
1960.
GENETTE, Gérard. Figuras. Tradução de Ivonne Mantoanelli. São
Paulo: Perspectiva, 1972.
GRASSI, Ernesto. Poder da imagem. Impotência da palavra racio-
nal. Tradução de Henriqueta Ehlers e Rubens S. Bianchi. São Paulo:
Duas Cidades, 1978.
GRASSI, Ernesto. Arte como antiarte. A teoria do belo no mundo
antigo. Tradução de Antonieta Scarabelo. São Paulo: Duas Cidades,
1975.
GRASSI, Ernesto. Arte e mito. Traducion de Jorge Thieberberg.
Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1968.
GUIMARÃES, Vicente. Joãozito. Infância de João Guimarães Ro-
sa. Rio de Janeiro: José Olympio-Instituto Nacional do Livro, 1972.
HOMER. Odisséia. Tradução de Manuel Odorico Mendes. Edição de
Antonio Medina Rodrigues. São Paulo: Edusp-Ars Poetica, 1992.
JAVIER, Domingo. “João Guimarães Rosa y la Alegria”. Revista do
Livro, 1960. 17, p. 59-63.
KERÉNYI, Carl. Dioniso. Imagem arquetípica da vida indestrutível.
Tradução de Ordep Serra. São Paulo: Odysseus, 2002.
20
KERÉNYI, Karl. Apollon. Studien über antike Religion und Hu-
manität. Düsseldorf: Eugen Diederichs, 1953.
KERÉNYI, Karl. Vom Wesen des Festes. Antike Religion und eth-
nologische Religionsforschung. Paideuma, 1938. Bd.1, Heft 2, p.
59-74.
KLAGES, Ludwig. Vom kosmogonischen Eros. 7. Aufl. Bonn: H.
Bouvier-CO Verlag, 1972.
KOLLER, Hermann. Enkyklios Paideia. Glotta,1955. 34, p. 174-89.
KUNTZ, Mary. Narrative setting & dramatic poetry. Leiden-New
York-Köln, E. J. Brill, 1993.
JAMES, Henry. The art of the novel. Critical prefaces. London:
Charles Scribner ́s Sons, 1936.
JENSEN, Ad. E. Mythos und Kult bei Naturvölkern. Wiesbaden:
Franz Steiner Verlag GMBH, 1960.
JOLLES, André. Formes simples. Traduit par Antoine Marie Buguet.
Paris: Éditions du Seuil, 1972.
LAIN ENTRALGO, Pedro. La curación por la palabra em la anti-
güedad clasica. Madrid:, Revista de Occidente, 1958.
LANDY, Francis. “O Cântico dos Cânticos”. In: Robert Alter e
Frank Kermode. Guia Literário da Bíblia. Tradução de Raul Fiker.
São Paulo: Editora UNESP, 1997.
LEÃO, Angela Vaz. “O ritmo em ‘O burrinho pedrês’”. In: Guima-
rães Rosa-Fortuna crítica . Seleção de textos por Eduardo Coutinho.
2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1991.
LIND, Georg Rudolf. Regionalismo e universalismo na obra de João
Guimarães Rosa. Humboldt , 1971. 23, p. 55-8.
LINS, Álvaro. “Uma grande estréia”. In: Os mortos de sobrecasaca.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1963. p. 258-63.
LOPES, Oscar. “Novos mundos”. Prefácio a Sagarana. 14. ed. Rio
de Janeiro: J. Olympio, 1971.
21
LOPES, Oscar. “Guimarães Rosa-Proposta de candidatura ao prémio
internacional de literatura”. In: Ler e depois. 2. ed. Porto: Editorial
Inova, 1969.
LUCCHESE, Lenise Maria de Souza. Vertentes do amor em Guima-
rães Rosa. Uma leitura de “Substância”, “Dão-Lalalão” e “Luas-de-
Mel”. Dissertação (Mestrado em Literatura Brasileira) – Universida-
de Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2003.
LÜTHI, Max. Once upon a time. On the nature of fairy tales. Trans-
lated by L. Chadeayne and P. Gottwald with additions by the author.
Bloomington-London: Indiana University Press, 1976.
MACHADO, Ana Maria. Recado do nome. Leitura de Guimarães
Rosa à luz do nome de seus personagens. Rio de Jeniro: Imago,
1976.
MARKANTONATOS, G. “On the origin and meaning of the word
eironeia”. Rivista de filologia e di istruzione classica, 1975. 103, p.
17-21.
MAURY, Paul. “Le secret de Virgile et l ́architecture des Bucoli-
ques”. In: Lettres d ́Humanité . Paris, 1944. p. 71-147.
MELLO, Cléa Corrêa de. A ficcionalização da oralidade em Guima-
rães Rosa . Tese (Doutorado em Ciência da Literatura) – Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2003.
MENDES, João Pedro. Construção e arte das Bucólicas de Virgílio.
Texto. Tradução e notas. Brasília: Editora da Universidade de Brasí-
lia, 1985.
MIYAZAKI, Tieko Yamaguchi. “A antecipação e a sua significação
simbólica em São Marcos”. In: Salvatore d ́Onofrio e outros. Conto
brasileiro. Quatro leituras. Petrópolis: Vozes, 1979. p. 61-106.
MIYAZAKI, Tieko Yamaguchi. “Na veredas: uma estória de amor”.
In: Um tema em três tempos. São Paulo: Editora UNESP, 1996.
MIYAZAKI, Tieko Yamaguchi e MARIÑEZ, Julieta Haidar de. O
recado do morro. Significação, 1975. 2, p. 85-108.
22
NORDEN, Eduard. Die Geburt des Kindes. Geschichte einer re-
ligiösen Idee. 3. Aufl. Stuttgart: B. G. Teubner, 1958.
NUNES, Benedito. “A viagem”. In: O dorso do tigre. São Paulo:
Perspectiva, 1969a. p. 173-9.
NUNES, Benedito. “O amor na obra de Guimarães Rosa”. In: - O
dorso do tigre . S. Paulo, Perspectiva, 143-171.
NUNES, Benedito(1998). De Sagarana a Grande Sertão: Veredas .
Range Rede, 1998. 3, p. 68-79.
OLIVEIRA, Fabília Honorato de. “O ‘herói-malandro’ Lalino Salã-
thiel”. Itinerários, 1998. 12, p. 227-36.
OLIVEIRA, Franklin de. “Guimarães Rosa”. In: A dança das letras.
Antologia crítica. Rio de Janeiro: Topbooks, 1991. p. 55-85.
OTTO, Walter F. Die Musen und der göttliche Ursprung des Singens
und Sagens. Düsseldorf: Eugen Diederichs, 1954.
OTTO, Walter F. Theophania. Der Geist der altgriechischen Relig-
ion . Hamburg: Rowohlt Taschenbuch, 1956.
PATRONI, Giovanni. Commenti mediterranei all ́Odissea di Omero.
Milano: Carlo Marzorati, 1950.
PATZER, H. Rapsodós. Hermes, 1952. 80, p. 314-24.
PAULY-WISSOWA. Real Enciclopädie der klassischen Alter-
tumswissenschaft. Stuttgart, em curso de publicação desde 1893. (a-
crescida de vários suplementos).
PESTALLOZZA, Uberto. Pagine di religione mediterranea, vol. II.
Milano: Giuseppe Principato, 1942.
PICKARD-CAMBRIDGE, A. W. “Excursus: On the form of the old
comedy as seen in Aristophanes”. In: Dithyramb, tragedy and com-
edy. Second edition revised by T. B. L. Webster. Oxford: Clarendon
Press, 1962. p. 194-229.
PLEBE, Armando. La nascita del comico nella vita e nell ́arte degli
antichi Greci. Bari: Editori Laterza, 1956.
23
______. La teoria del comico da Aristotele a Plutarco. Torino: G.
Giappichelli, 1952.
POSER, Michael von. Der abschweifende Erzähler. Berlin-Zürich:
Verlag Gehlen, 1969.
PRADO JÚNIOR, Bento. O destino decifrado - linguagem e existên-
cia em Guimarães Rosa. Cavalo Azul, 1968. 3 , p. 5-30.
RAMOS, Graciliano. “Conversa de bastidores”. In: Linhas Tortas.
14. ed. Rio de Janeiro: Record, 1989. p. 239-42.
REINHARDT, Karl. “Die Abenteuer der Odyssee”. In: - Tradition
und Geist. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1960.
RIBBECK, O. Über den Begriff des eiron. Rheinisches Museum,
1876. 31, 381 ff.
RÓNAI, Paulo. “A arte de contar em Sagarana”. In: Encontros com
o Brasil. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 1958a . p. 129-
37.
RÓNAI, Paulo. “Rondando os segredos de Guimarães Rosa”. In:
Encontros com o Brasil . Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro,
1958b. p. 139-49.
ROSA, João Guimarães. Sagarana. 52. impr. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2001a.
ROSA, João Guimarães. Ave, palavra. 5. ed. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 2001b.
ROSA, João Guimarães. Manuelzão e Miguilim. 11. ed. Rio de Jnei-
ro: Nova Fronteira, 2001c.
ROSA, João Guimarães(2001d). No Urubuquaquá, no Pinhém. Rio,
Nova Fronteira, 9. ed.
ROSA, João Guimarães(2001e). Noites do sertão . Rio, Nova Fron-
teira, 9. ed.
ROSA, João Guimarães(1996).”Cartas a Harriet de Onís”. In: Ca-
derno de Sábado do Jornal da Tarde , de 18-05-96.
24
ROSA, João Guimarães(1981). Correspondência com seu tradutor
italiano Edoardo Bizzarri. S. Paulo, T. A. Queiroz, Editor-Instituto
Cultural Ítalo-Brasileiro.
ROSA, João Guimarães(1973). “Entrevista concedida a Günter Lo-
renz”. In: Günter W. Lorenz. Diálogo com a América Latina. Trad.
de Fredy de Souza Rodrigues e Rosemary C. Abilio. S. Paulo, Edito-
ra Pedagógica e Universistária Ltda., 1973.
ROSA, João Guimarães. “Entrevista concedida a uma prima estudan-
te”. In: Vicente Guimarães. Joãozito. Infância de João Guimarães
Rosa. Rio de Janeiro: José Olympio-Instituto Nacional do Livro,
1972. p. 172-4.
RUFINO, Joel. Bumba-Meu-Boi, o principal auto popular brasileiro.
Rio de Janeiro, 1997. (Texto inédito, policopiado)
SILVA, Dora Ferreira da. Sagarana e o sentimento da natureza.
Diálogo, 1957. 6, p. 79-80.
SOLOVIEV, Vladimir. A verdade do amor. Tradução de Álvaro Ri-
beiro. Lisboa: Guimarães Editores, 1971.
SOUSA, Eudoro de. “O mito de Psiquê e a simbólica da luz”. In:
Dioniso em Creta e outros ensaios. São Paulo: Duas Cidades, 1973b.
SOUZA, Ronaldes de Melo e. Introdução à poética da ironia. Linhas
de Pesquisa, 2000. 1, p. 27-48.
VERLANGIERI, Iná Valéria Rodrigues. J. Guimarães Rosa – cor-
respondência inédita com a tradutora norte-americana Harriet de
Onís-parte I. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo.
Araraquara, 1993.
Ensino de idiomas, Literatura, Filosofia, Traduções. ORIENTAÇÃO DE: TCC, Monografia, Dissertação,Tese e Elaboração de Projetos, entre outros.
Quem sou eu
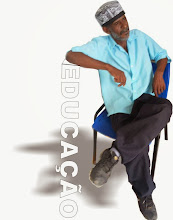
- Professor Mestre J. Henrique
- Consultor Educacional Prof Mestre J.Henrique Mestre em Letras -Universidade de Brasília-DF Tradutor e Intérprete-ETMIG Consultas Técnicas, TCC, Tese, Dissertação: Assessoria
Bem-vindo ao Blog Linguarama!
Bem-vindo ao Blog Linguarama!
Aqui você terá ajuda em vários aspectos linguísticos: desde tira-dúvidas de português, inglês e algumas questões de metodologia.
Consultas Técnicas, TCC, Tese, Dissertação, Assessoria:
Contate-nos:
Fale conosco
Aqui você terá ajuda em vários aspectos linguísticos: desde tira-dúvidas de português, inglês e algumas questões de metodologia.
Consultas Técnicas, TCC, Tese, Dissertação, Assessoria:
Contate-nos:
Fale conosco
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário